
“Não poucos destes caçadores de baleias são originários dos Açores, onde as naus de Nantucket que se dirigem a mares distantes atracam frequentemente para reforçar a tripulação com os corajosos camponeses destas costas rochosas. Não se sabe bem porquê, mas a verdade é que os ilhéus são os melhores caçadores de baleias”.
Herman Melville, Moby Dick, cap. XXVII
Não é impunemente que os Açores assistiram a 150 anos de baleação nos seus mares. A baleia é por isso mesmo um pedaço da cultura, da memória e da história destas ilhas e faz parte do imaginário destas gentes.
Já muito se escreveu sobre o impacto produzido pela caça à baleia nos Açores, sobretudo nas ilhas do grupo central, as suas incidências no tecido social e a sua importância económica. Mas convirá não esquecer que, antes de a caça à baleia se tornar uma atividade industrial radicada no arquipélago, as baleeiras norte-americanas tinham funcionado como um recurso para a mão-de-obra açoriana e, principalmente, o veículo privilegiado para se atingir o território do Novo Mundo, em fuga ao recrutamento militar e à fome – e desse modo são inseparáveis os rumos que a emigração açoriana tomou no século XIX, com reflexos na própria linguagem, em que a palavra baleeiro se tornou equivalente a emigrante.
Quem melhor isto compreendeu foi o escritor picaroto Dias de Melo (1925-2008), que à literatura portuguesa deu um testemunho empolgante e vigoroso sobre a história anónima e coletiva dos baleeiros da ilha do Pico, captando a verdadeira dimensão humana, social e dramática da saga baleeira, sobretudo nos seus romances: Mar Rubro (1958), Pedras Negras (1964) e Mar pela Proa (1976), o chamado ciclo ou trilogia da baleia.
Sendo um escritor neorrealista, Dias de Melo optou, nas referidas obras, por uma abordagem em termos de contencioso social: verifica-se um conflito aberto entre baleeiros (que não sendo os donos dos botes em que trabalham, acabam por não ver a força do seu trabalho suficientemente bem remunerado) e armadores (que, a pretexto de dificuldades na venda do óleo, exercem grande exploração sobre aqueles), num processo de luta de classes e até mesmo numa perspetiva marxista de exploradores(os donos das companhias baleeiras) versus explorados (os baleeiros), porque eram antagónicos os interesses de uns e de outros.
Este tipo de conflitualidade já não existe nos livros posteriormente escritos sobre a baleação açoriana (por exemplo, Mulher de Porto Pim, de Antonio Tabbuchi). Porque outros são os tempos em que vivemos, é o caso de O Canto dos Açores (Futurismo edições, 2025), da autoria do terceirense Carlos Ávila de Borba, um romance que me forneceu horas de apetecível leitura e que, na minha opinião, vale outro tanto como um guião cinematográfico.

E que bem que ele, a partir de um argumento sólido e bem arquitetado e de uma ação em crescendo, faz a montagem das suas narrativas, havendo a destacar os diálogos muito bem carpinteirados.
Livro sobre a condição humana, O Canto dos Açores tem tanto de apreensão de um mundo real como de construção de um mundo fictício. Escrito em bom vernáculo e com fluidez narrativa, a ação do romance decorre em várias ilhas açorianas, com particular incidência para as do Pico e Faial.
Porque não há literatura sem geografia, Carlos Ávila de Borba escreve com os olhos da memória e da distância, numa prosa transatlântica que parte das ilhas açorianas para o Mundo. Bem documentado e informado, ele vai fundo no imaginário baleeiro, articulando evocação com documentação e pesquisa, fornecendo-nos elementos valiosos para o historial da baleação entre 1876 e 1983/84, isto é, no período que vai da fundação da primeira armação baleeira (no Pico) até à fase de reconhecido declínio e proibição da caça à baleia nos Açores.
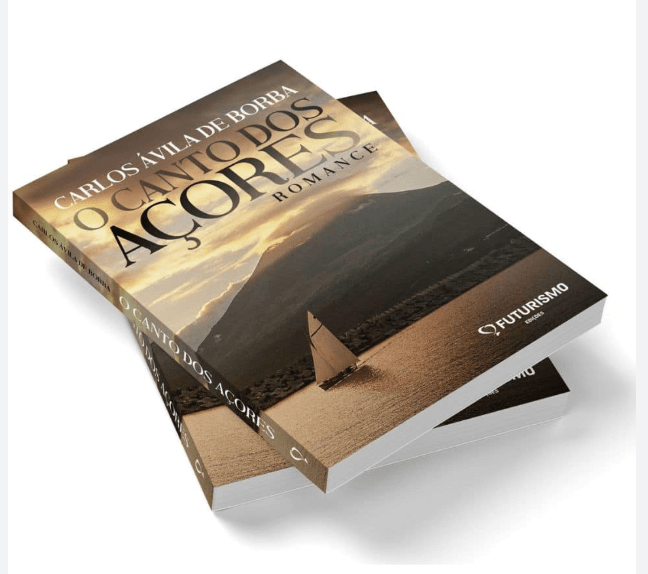
Nesta matéria, é de antologia a descrição minuciosa que, com extraordinária pormenorização, o autor faz de uma arriada à baleia, captando a exata respiração e toda a ambiência que envolvia as pretéritas caças ao cachalote, relatando sensações e sentimentos, narrando memórias, incidentes e acidentes. Ou seja, a aventura épica de intrépidos lobos do mar que, em frágeis embarcações e mediante processos primitivos, se entregavam a uma luta intensa e desigual, desafiando a vida pela morte do majestoso Leviathan. Faziam-nos não por ódio ao “boi do mar” (título de canção com música de Luís Alberto Bettencourt e letra minha), mas por uma questão de sobrevivência económica.
E, nesta matéria, interessante é a maneira como o autor, pela boca de Mateus, jovem protagonista, evoca e traça perfis de baleeiros, gente de grande riqueza psicológica e funda expressão humana. E, acima de tudo, o modo como, ao longo de toda a ação do livro, ele vai explicando, comentando e analisando a baleação, trazendo testemunhos de gente real para a narrativa, como é o caso de Zé Henrique, o atual proprietário do Peter Café Sport.
Uma trama amorosa entre Mateus (que representa uma 3ª geração de baleeiros) e a jovem velejadora francesa Manon, abrem caminhos de futuro e virão a dar um cunho contemporâneo à epopeia baleeira, transformada, nos dias de hoje, em atividade marítimo-turística (whale watching), artesanato (scrimshaw) e naquele que é o museu mais visitado dos Açores: o Museu dos Baleeiros nas Lajes do Pico.
Livro de impressões e atmosferas, O Canto dos Açores, seu 4º romance, possui grande poder evocativo, é muito belo e humaníssimo. A ser lido num tempo em que, felizmente, as baleias se passeiam livremente pelos mares dos Açores.
Horta, 14/12/2025
Victor Rui Dores, poeta e romancista
