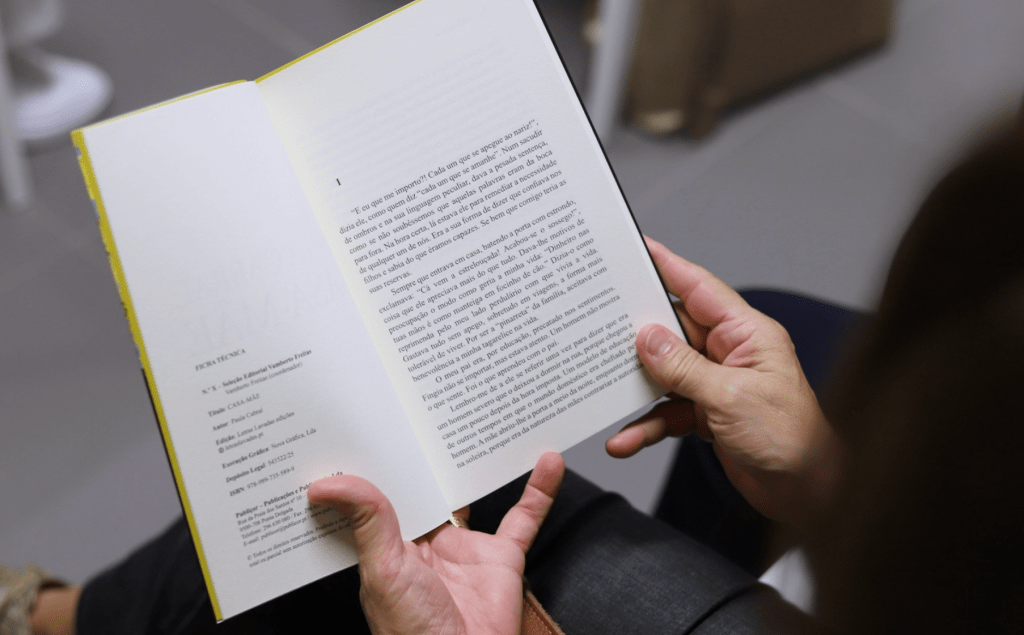Cumpre-me antes de mais apresentar as minhas saudações, bem como agradecer a presença de todos aqui neste momento e, principalmente, cabe-me agradecer à Paula Cabral, a autora do livro Casa-Mãe, o convite que me fez para apresentá-lo hoje no lugar que lhe deu origem, a ela e ao seu livro: a freguesia do Pico da Pedra. Paula Cabral é autora publicada desde há muito, colabora na imprensa local e da diáspora. Publicou Pedrosa de um Pico em 1994, Crónicas da Minha Terra em 2017 e poemas, crónicas e contos dispersos. Casa-Mãe é a sua publicação mais recente.
Fiquei sinceramente tocada – e lisonjeada – por me ter sido atribuído o papel de apresentadora desta obra. Surpreendida também, porque me parecia à partida que o mais natural teria sido a opção pelo Onésimo. Afinal, ele é que é o oriundo desta terra e, embora talvez não me fique bem a mim sublinhá-lo, é um estimado picopedrense, pelo menos de acordo com aqueles seus conterrâneos que deram o nome dele a esta biblioteca (não o avisei que ia dizer isto e é bem provável que me vá repreender por isso). Creio que teríamos todos a ganhar com tal escolha. O Onésimo iria divertir a audiência com as suas histórias e eu seria poupada às dores que me causa qualquer ribalta. Desde que me aposentei, fujo quanto posso de falar em público e, contra todos os insistentes protestos do Onésimo, abandonei definitivamente a participação ativa em encontros académicos.
Mas talvez a Paula quisesse uma voz ou uma apreciação feminina e um olhar de fora; se bem que não me considere propriamente forasteira, visto que amo profundamente esta ilha e, além disso, desde há quase quarenta anos o Pico da Pedra está em diferentes formas carinhosamente presente na minha vida. A verdade é que não me passaria pela cabeça negar um pedido da Paulinha (desculpem, mas é assim que desde sempre ouvi nomeá-la), nem o meu contributo num evento na terra do meu marido.
Falemos então um pouco deste livro que se me afigura uma belíssima celebração desta freguesia, de que tanto e tão merecidamente, se orgulham todos os picopedrenses que até hoje conheci. Constitui também, entre muitas outras coisas, uma homenagem à família de que provém a própria Paula Cabral. Trata-se, do meu ponto de vista, de uma narrativa centrípeta, quer dizer orientada em torno de um centro que começa por um núcleo familiar, depois uma casa e, por fim, o largo da igreja onde essa casa se situa. Mas é também centrífuga na medida em que desse centro se parte em linhas de fuga para o resto da freguesia, incluindo a sua área mais recente, depois para a cidade próxima e para o mundo mais amplo presente nas reflexões da narradora. Na verdade, a construção no seu todo surge-me configurada como uma peça de crochet iniciada por exemplo numa pequena rosácea, que se vai alargando até chegar a uma forma final pré-concebida, ou simplesmente gerada de modo espontâneo, ao sabor da inspiração. Creio que essa imagem me é sugerida pela própria escritora numa das suas meditações sobre o que para ela significam as palavras: “escolho as palavras com o mesmo gosto de quem escolhe as cores das linhas” de crochet ou de tricot, “gosto de […] enlaçá-las ou desatá-las […] ter o poder de criar a forma que quero”.
O fascínio da palavra, da sua força criativa e encantatória é, aliás, mais de uma vez tornado explícito na escrita elegante da Paulinha, nomeadamente quando afirma: “sempre prestei atenção às palavras […] as palavras permitiam o meu aconchego”; “é através da palavra que se concretiza [ou se desfaz] o poder”; “as palavras são luz, delas depende toda a conceção do mundo”. E ainda: “a palavra comungava-se à mesa, sabia bem e era preciosa. Herdámo-la de outras vidas e de outros tempos”.
Esta última tirada, pela ênfase que coloca na consciência plena de quanto herdamos do passado, conduz-nos a outro tópico fundamental em Casa-Mãe – a memória e a importância da sua preservação. Como diz a autora, “escrever é uma forma de resistir à passagem do tempo, ao apagamento da memória […] é sulcar o relevo da existência com a nossa presença”. Estamos, obviamente, perante uma narrativa que não perde nenhuma oportunidade de salientar o seu caráter memorialista e as razões por que o assume. A esse propósito, direi que achei particularmente tocante a forma como a Paula Cabral procura, na escola onde é professora, explicar aos seus alunos como disciplinas tais como a História e a Literatura são fundamentais. Quando eles argumentam que não lhes vale a pena interessarem-se por um tempo que já morreu, ela interroga-os: “Porque razão tinham nascido, que utilidade veriam em ter um filho, que utilidade afinal tem a humanidade? Para que serve e a quem serve?” e ela mesma responde: “se não for pelo prazer da descoberta do mundo, pelo amor à beleza do mundo […], se não servir para nos superarmos no amor a um filho, se não for para amarmos incondicionalmente, se não tiver préstimo para nos exaltarmos na defesa de um ideal, mais valia não termos nascido”.
Oxalá muitos outros professores sejam capazes de assim transmitir aos seus alunos uma noção tão clara da necessidade de transcendermos o materialismo utilitarista que predomina na vida contemporânea dominada pela gratificação imediata que o consumismo desenfreado desencadeia. E de lhes comunicar o quanto a lembrança das raízes históricas, coletivas ou individuais, pode contribuir para esse tipo de transcendência tão determinante como meio de se dar sentido à vida.
De que modo se realiza então em Casa-Mãe a expressão da memória definida por Paula Cabral como “fruição como quem escarafuncha na gaveta de coisas esquecidas e acha sempre algo de valor”?
Como se se tratasse de descrever um processo de génese, a narrativa é inaugurada pela figura do pai, que a morte tornou fisicamente ausente mas indelével na lembrança, e transita subtilmente para a presença material da mãe, senhora nonagenária que conserva a força física e mental de alguém que ainda, diariamente, “sulca o relevo da sua existência” – para reusarmos as palavras da filha – registando-a por escrito.
Daqui se passa concretamente à casa e ao espaço físico que ela ocupa no centro da freguesia, lugar de chegada e partida de pessoas e notícias, logo, do ponto de vista da autora quando se transporta à infância, centro não apenas da sua terra mas do seu mundo. Situada em paralelo com o adro da igreja, defrontando o edifício religioso, núcleo espiritual comunitário e também ao lado do Canto da Fonte, antigo ponto de encontro social, esta casa constitui de facto, uma espécie de, como lhe chama a Paula, “torre de menagem no coração da terra”; tanto mais que a freguesia se “desenha”, também conforme esclarece a autora, “em forma de cruz, em cujo centro se situa a igreja”. Dada pois esta localização, não é de estranhar que seja escolhida a procissão anual do Pico da Pedra em honra da sua padroeira como contexto de todo o primeiro longo capítulo da narrativa. As lembranças da infância e as reflexões da escritora adulta interpenetram-se aqui, enlaçam-se como malhas de tricot ao ritmo da passagem da procissão: “retratos de família […] soltam-se das medidas do tempo”, ao “passo cadenciado, ao som da filarmónica”. A procissão segue ao mesmo tempo que desfilam na imaginação da autora os casos contados na sua meninice, os medos e os sonhos do passado, a América trazida na bagagem dos familiares lá residentes e de lá vindos para a festa religiosa e para o espaço agregador e repositório de memórias, “o centro da família”, a casa-mãe. Dessa casa, o pai fizera o chão que teria de ficar na família, incumbindo a filha mais nova, a própria Paula Cabral, da responsabilidade de continuar esse legado. Não admira por isso que ela faça afirmações do tipo “não é possível conceber uma identidade noutro lugar”. Sim, porque identidade é outro dos temas deste livro de forma menos explícita do que a memória – “a memória genética”, chama-lhe a Paula – mas a ela inexoravelmente ligada. É uma identidade profundamente entretecida com o tempo e sobretudo com o espaço: “a concentração no espaço pode ter muitos efeitos na mente de um ser humano […] como um bicho de conta que se enrola sobre si mesmo […] de tal forma que metamerfoseia o seu nó no olho do mundo”.
A tal forma centrípeta a que me referi no início confirma-se no final deste capítulo com o recolher da procissão depois de percorrida a freguesia (hoje em dia alternando-se anualmente o percurso para assim se poder incluir as ruas novas do Pico da Pedra do tempo presente, sem extenuar os fiéis e o seu pároco). “Filas de gente de forma ordeira […] ressurgem dos confins do tempo em direção à igreja […], foguetes assinalam o recolher da imagem” e o capítulo encerra precisamente com o gesto e as palavras da autora: “fecho a janela. Recolho-me. No ventre da casa-mãe.”
O segundo capítulo, iniciado pela frase “viver é incorporar uma procissão” (esta assumindo agora claramente um valor simbólico) é quase todo dedicado às reminiscências sobre o pai, recordações repassadas de ternura.
A narrativa conclui-se num terceiro capítulo, já mais longe da casa-mãe, em grande parte na cidade, mas sem nunca se afastar muito do Pico da Pedra. Até porque, diz a Paula, “a minha terra está dentro de mim e faz-me feliz! Ainda bem que a trago comigo.” Por isso a história, ou melhor, as histórias aqui contadas rematam com a referência ao jardim da residência urbana para o qual a Paulinha já tem um plano definitivo: “vou transplantá-lo um dia para a casa-mãe”. É essa a frase lapidar que encerra a narrativa.
Creio poder afirmar que o carinho da Paula pelo seu Pico da Pedra, a importância que dá à memória e à identidade, lhe conferem lugar numa linhagem de autores desta freguesia que remontam ao Padre Mendonça e às suas Memórias do Pico da Pedra, bem como a Cristóvão de Aguiar e ao seu hoje clássico Raiz Comovida. Confesso que não li as Memórias do Pico da Pedra (conheço apenas referências a elas), contudo li e apreciei deveras Raiz Comovida – por acaso até revi a sua recente tradução em inglês. Trata-se de um mergulho no micromundo do Pico da Pedra de outro tempo, mas já claramente um lugar especial e com uma tradição literária notável de autoreflexão identitária e de sentido de importância da memória.
Mesmo antes da frase que acima citei a propósito do jardim destinado a transplante, há outra que diz assim: “a nossa errância pode ser um jardim… ou – quem sabe? – um livro”. Pois a mim só resta formular votos sinceros de que a Paula Cabral continue com o mesmo fôlego as suas errâncias em forma de livros tão gostosos como este que aqui deixo para vosso deleite. Não são por acaso, nem gratuitos, esses meus votos. A escrita dela tem uma beleza muito própria, não apenas em termos estéticos mas também intelectuais. A sua prosa revela talento; é apaixonada, cheia dum carinho especial, estilisticamente bem conseguida e semeada de insights perspicazes e originais. Disso intentei dar-vos algumas provas, mas sei ter ficado aquém do meu intento. A vossa leitura, porém, irá decerto colmatar os vazios que reservei para a vossa curiosidade preencher.
Leonor Simas-Almeida (Professora Emérita Brown University)
ALgumas imagens do lançamento cortesia da editora Letras Lavadas: