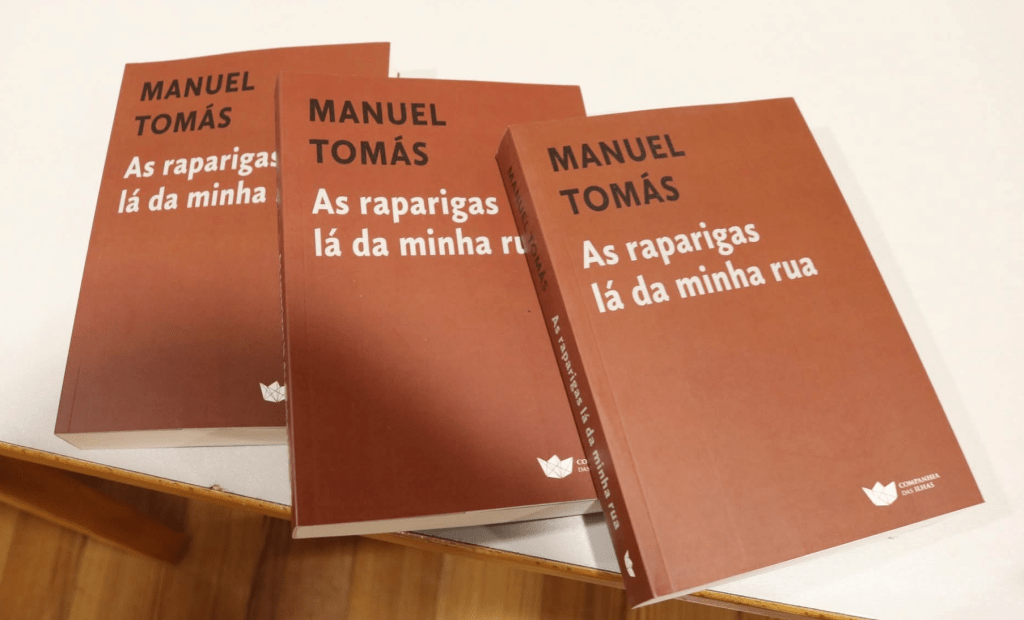“A memória é como a areia movediça: pode engolir tudo ou deixar vestígios que brilham ao sol.”
— Italo Calvino

Há livros que nos encontram no limiar do silêncio, quando já esquecemos como é ouvir a nossa própria infância. As Raparigas Lá da Minha Rua, de Manuel Tomás, é um desses livros que não apenas contam histórias — acendem claridades. É uma obra tecida com o fio fino da saudade, da ternura e da observação delicada de uma infância que, embora insular, ressoa em todas as latitudes humanas. “A escrita de Manuel Tomás”, como se vislumbra logo nas primeiras linhas, “é feita de gestos que tocam sem apertar, de palavras que sussurram sem precisar gritar.” A sua elegância está na contenção, no detalhe que não se impõe, mas que se instala na alma como uma brisa de montanha. Ao narrar a sua rua, o autor constrói um território afetivo universal — onde todos podemos reconhecer a nossa.
A primeira crónica, “Resposta ao Manuel Dutra ‘Pequenino’”, é o ponto de partida afetivo e simbólico do livro. “A minha rua será sempre aquela onde nasci e não aquela onde vivo”, escreve Manuel Tomás, e com isso define a lógica emocional de toda a obra. É uma rua que já não existe, mas que ainda respira na sua memória, onde cada casa, cada vizinho, cada rapariga é uma nota de um compasso nostálgico. Esta rua não é apenas geográfica: é uma ideia, um estado de alma, um território onde a infância ainda caminha descalça e as raparigas, embora partidas, continuam presentes como “memórias com rosto”.
A relação entre o espaço sagrado e a vida quotidiana é subtilmente evocada em “Dois episódios vividos na igreja e a fotografia especial dos primos”. Aqui, a igreja aparece não como imposição religiosa, mas como palco das primeiras experiências sociais e de rituais quase iniciáticos. O gesto de ir à missa é revestido de significado social — “ficar na igreja era uma forma de ser visto, de estar, de existir”. A religião, nesse sentido, é mais vivência do que dogma, mais convivência do que liturgia. E é nesse tom que o autor nos mostra como as instituições — a igreja, a escola, a comunidade — eram, para as crianças da sua rua, espaços onde o sagrado e o profano se entrelaçavam como as mãos dos fiéis no ofertório.
Em “As raparigas lá da minha rua e a emigração”, o tema do desenraizamento insular ganha força. A frase inicial, inspirada em Emanuel Félix — “Como eu amei as raparigas lá de casa!” — estabelece logo o tom nostálgico e lírico que trespassa toda a narrativa. Mais, este texto evoca a dor da ausência, a marca da partida, e a memória dos que foram e não voltaram. “Eram treze e todas, tal como eu, tinham saído e só duas regressaram.” A rua, antes povoada de risos e de olhares cúmplices, esvaziou-se com a emigração. No entanto, as raparigas não desaparecem: transformam-se em presença espectral, “em carta guardada”, em “saca de roupa da América”. A emigração não é apenas deslocação física: é um reordenamento afetivo, um redimensionar da infância. A frase “O mundo era só o que os olhos viam e o que a mãe dizia” encapsula o sentimento de uma geração que conheceu a América muito antes de pisá-la — através das malas, das cartas, das fotografias a preto e branco.
Outro momento magistral da obra (e existem vários) é o texto “D. Sebastião e o vulcão dos Capelinhos”. A fusão entre mito e natureza é um dos traços mais interessantes do estilo de Manuel Tomás. O vulcão não é apenas erupção geológica — é metáfora de um tempo em convulsão, de um mundo em transformação. O autor compara a espera por D. Sebastião à espera por uma mudança que nunca chega, como o fumo do vulcão que anuncia destruição, mas também renascimento. “O vulcão alterou tudo. Era como se a ilha já não coubesse em si própria.” O Capelinhos torna-se então símbolo da vulnerabilidade humana diante da natureza, mas também da resiliência insular, do recomeço possível.
A adolescência, com seus encantos e perplexidades, é tratada com delicadeza em “A rapariga especial e a vizinha especial”. Aqui, Manuel Tomás capta o instante fugaz da descoberta amorosa, da inocência que ainda não sabe que é desejo. “Foi lá que vivi o primeiro grande amor da minha vida, mas não sabia.” Esta frase resume não apenas a crónica, mas o tom de muitas outras: o passado revelado à luz do presente, a emoção que só se compreende em retrospectiva. As raparigas da sua rua não são apenas personagens — são musas de um tempo em que os afetos eram discretos, os toques breves e os sentimentos guardados como relíquias.
No capítulo “Dos meus avós e do meu grande acidente”, o texto mergulha nas relações intergeracionais com um lirismo pungente. A figura da avó, a sopa de leite com pão de milho, os gestos simples e sábios — tudo isso compõe uma tapeçaria afetiva onde o tempo parece abrandar. A ligação com os avós é feita de rotinas, de cheiros, de silêncios partilhados. O “grande acidente” não é apenas físico, mas simbólico: é o momento em que a infância começa a entender os limites do corpo, da vida, do tempo. É nesse confronto com a dor que se inaugura uma nova consciência — e o autor sabe narrá-la com contenção e profundidade.
A Ilha do Pico é presença constante e quase mítica ao longo da obra. Em “A minha rua e a montanha”, percebemos como a geografia molda não apenas a paisagem, mas a própria identidade dos seus habitantes. “A montanha era o centro do mundo.” E é assim que a natureza se integra à narrativa — como personagem, como oráculo, como espelho das emoções humanas. A montanha, os barcos do Canal, o cheiro da terra lavrada, o som das lanchas — tudo contribui para a criação de um universo literário profundamente insular e simultaneamente universal.
Em “A Comunidade do Canal”, a travessia entre ilhas adquire dimensão simbólica. “O Canal era o mundo. O Canal era a estrada.” O barco torna-se metáfora da passagem, da travessia interior que cada personagem — e cada leitor — realiza. Os mestres de mar, os horários das lanchas, os rostos conhecidos entre ilhas — tudo isso compõe uma narrativa de encontros e desencontros, onde a insularidade não é limite, mas ponto de partida.
O humor e a ternura estão presentes em textos como “A política que havia” e “As receitas de minha mãe e outras coisas”. Em ambos, Manuel Tomás consegue extrair beleza e leveza de situações banais. Seja no mal-entendido de uma sigla política, seja no reaproveitamento criativo das roupas e dos alimentos, há sempre uma celebração da inventividade do povo açoriano, da sua capacidade de rir de si mesmo e de resistir com dignidade.
O epílogo da obra, escrito com delicadeza e precisão, serve como fecho e celebração. Nele, o autor organiza as histórias como se fossem os dias de um mês. Essa estrutura, aparentemente simples, é profundamente simbólica: cada texto é um dia, um fragmento de vida, uma página de um calendário emocional. Ao lermos o livro como um todo, compreendemos que não se trata apenas de crónicas isoladas, mas de uma narrativa contínua — um romance tecido com as linhas da memória. O mês, como unidade de tempo e de emoção, costura as histórias, dá-lhes ritmo, e transforma a rua do autor numa rua de todos nós.
Em As Raparigas Lá da Minha Rua, Manuel Tomás oferece à literatura açoriana um dos seus mais primorosos e poderosos testemunhos. A sua escrita é um murmúrio persistente, uma luz branda que ilumina as esquinas da infância, da perda, do amor e da pertença. Este livro é uma elegia à vida comunitária, à simplicidade dos gestos, à resistência das ilhas e à grandeza dos pequenos mundos. É, sobretudo, uma celebração da palavra como semente de permanência. Cada texto deste livro, que se lê como um romance, é como uma pedra da calçada da rua que se desfez: aparentemente pequena, mas firmemente incrustada no chão da memória coletiva. Ao transformar os seus dias de infância em literatura, Manuel Tomás não apenas reconstrói a sua rua — oferece-nos a possibilidade de habitarmos a nossa. E fá-lo com uma contenção lírica rara, onde as emoções não explodem, mas germinam, discretas, no subsolo da linguagem. O tempo, que tantas vezes apaga, aqui grava. E o leitor, ao fim destas páginas, sente-se menos só, mais inteiro, mais reconciliado com a beleza daquilo que passou e permanece.
Este é um livro que nos ensina a escutar as vozes que moram dentro de nós, as que julgávamos esquecidas, mas que estavam apenas à espera da página certa. Em tempos de dispersão, ruído e aceleração, As Raparigas Lá da Minha Rua convida-nos ao reencontro com o essencial — o afeto, a memória, o gesto humilde e a palavra justa. Manuel Tomás escreveu, com este livro, uma sinfonia de pertencimento, um romance por fragmentos, um espelho das ilhas e do coração humano. E por isso, este livro pertence não apenas à literatura açoriana, mas à grande literatura da memória. Neste livro, estamos perante o lugar onde a memória habita e a rua se transforma em literatura. Porque, como diria Calvino, “nas cidades invisíveis e nas ruas esquecidas, o que perdura não é o lugar, mas o olhar de quem o recorda”. E o olhar de Manuel Tomás brilha — como vestígio ao sol.
Diniz Borges