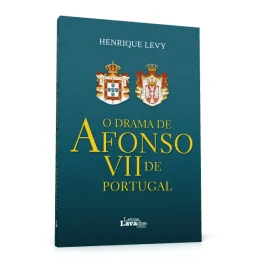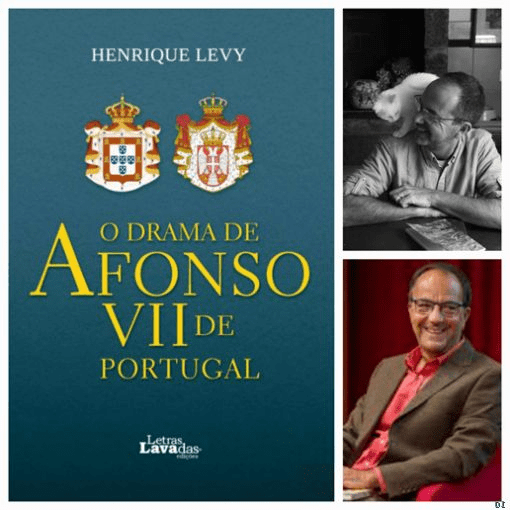
Gosto muito de ler Henrique Levy. Costumo ler Henrique Levy no Inverno. Já lho disse. Porquê? Porque é uma leitura que me leva a refletir, que me leva a ir mais além nos meus pensamentos.
Paradoxalmente, estando de férias e com menos afazeres, o calor e a humidade toldam-me a capacidade de despertar para as ideias e condicionam as percepções possíveis.
Porque estou a dizer tudo isto, dado que este texto se baseia numa análise da última obra publicada de Henrique Levy? Porque, pela primeira vez, li-o no Verão, em pleno mês de agosto. E levei mais de um mês, em plena época de férias, a ler O Drama de Afonso VII de Portugal, uma obra com 172 páginas que, aparentemente, numa semana – ou em menos tempo – um bom leitor o faria de forma leve e descontraída.
Antes de avançar na análise e para terminar este introito que, já vá longo, acrescento que sou daquelas leitoras que gosta de sublinhar os livros, particularmente expressões, frases ou períodos que me transmitam algo que refletir, para, mais tarde, lá voltar. Se pegarem na minha versão da obra, vão ficar assustados: contam-se, pelos dedos, as linhas que não estão sublinhadas, traduzindo-se esta ação num contínuo regresso à frase, ao período ou à expressão, não uma ou duas vezes, mas muitas mais.
Em conclusão, naquele mês de agosto, li O Drama de Afonso VII de Portugal várias vezes, não em continuidade, mas em viragens de páginas para trás, para depois avançar lentamente, como se estivesse a descascar uma cebola, retirando-lhe as escamas brilhantes ou casca e, ao levantar, descuidadamente cortasse as finas e frágeis folhas interiores, continuando a desfolhar e a descobrir uma nova superfície, cada vez mais translúcidas, porém cada vez mais sumarentas e suculentas.
Já sabem que não vos vou contar nada da história. Aqui sou muito Levyana (atenção à homonímia), pois deixo o suspense até à última página… ou para além dessa mesma página.

Aparentemente um Romance Histórico, O Drama – passarei a abreviar o título – logo, a partir do mesmo, me fez questionar se se enquadraria nessa categoria. Afonso VII não faz parte das nossas dinastias, como bem o sabeis, logo fiquei com a pulga na orelha e com toda a razão. Se há livros que podemos catalogar ou definir numa determinada categoria, este, na minha modéstia opinião, não cumpre com os requisitos. Ele é muito mais do que um Romance Histórico; é um Romance Alegórico, atrever-me-ia a dizer, mesmo, um Romance Filosófico, uma Arte Poética.
Consigo justificar todas as minhas palavras anteriores, pois este livro cumpre com todos os predicados para lê-lo nessas diversas vertentes. É um Romance Histórico porque reporta-se a um tempo e a um espaço histórico real; é um Romance Alegórico porque nos apresenta um diálogo entre personagens ficcionais e personagens alegóricas, à boa maneira renascentista ou maneirista; é um Romance Filosófico, porque nos faz refletir e pensar na possibilidade ou probabilidade de existir um mundo que ainda não existe; é uma Arte Poética, porque nos apresenta a reflexão do autor sobre a sua própria criação literária e o impacto da mesma. Complexo, não? Sim, mas, ao mesmo tempo interessante, cativante, para não dizer, verdadeiramente fascinante.
Continuamos a ter a leveza da escrita de Henrique Levy; continuamos a ter uma linguagem próxima, aberta, límpida, claríssima; continuamos a ter a brevidade e contenção na medida (não é necessário escrever a metro para dizer muito, como vos vou exemplificar). A complexidade reside na forma da construção da narrativa; no tema (podia colocar a palavra no plural, mas não vai ser necessário. Quando o lerem, vão perceber); na escolha das personagens; na temporalidade escolhida, podendo tudo isto se resumir à palavra essência deste livro: Drama. O Drama percorre as páginas da obra e nós acompanhamo-la, tentando ultrapassar os problemas, as questões, as dúvidas, as barreiras, as obstruções, as interrogações não só preconizadas por uma das personagens principais, Afonso VII, como também as dificuldades, os empecilhos, as barreiras, as obstruções, os bloqueios, porque não dizê-lo, os contratempos gerados pelos nossos próprios pensamentos. Não. Não é aborrecido. Não, não é maçador. É simples: faz-nos pensar e isso, nos tempos que correm, é algo precioso e singular, infelizmente.
Quando falei que este livro é um Romance Alegórico, não foi de ânimo leve. Quando comecei a ler e me apercebi que as personagens principais eram Afonso VII de Portugal, a sua Consciência, a Consciência da Consciência e o Narrador, comecei a perceber que estava perante um romance com personagens alegóricas que dialogam entre si e que nos vão apresentar, à moda socrática, uma visão de um mundo, do mundo que eu acredito ser possível construir.
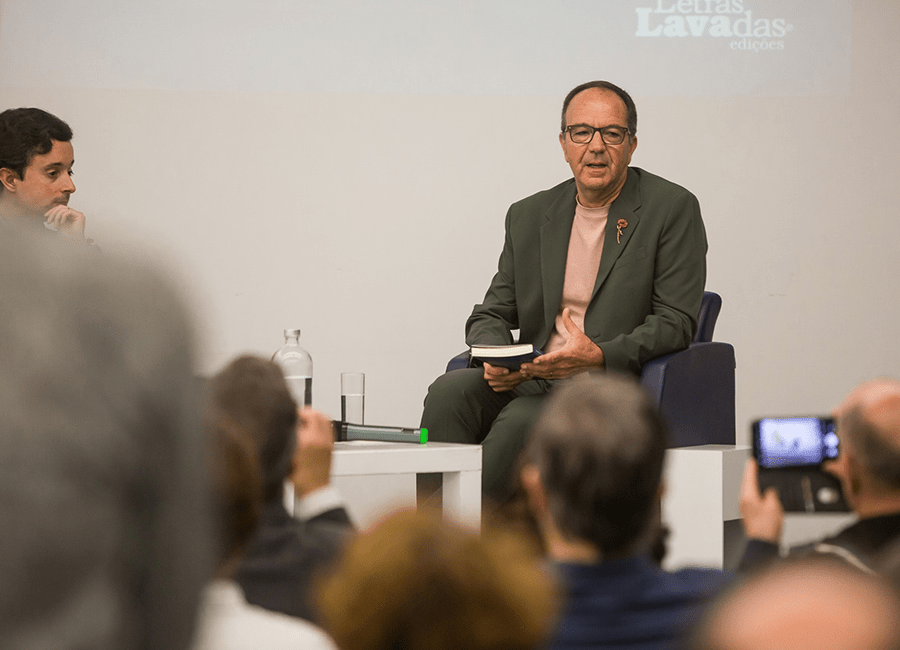
Um mundo construído a partir da memória e reflexão de um rei, não mais do que alguns minutos (não interessa quantos), tempo real da história, antes de fazer um comunicado à nação, é algo visionário, para mim, para outros, será utópico. Visionário é ter visão, é ter ideias, é ser inovador, logo é ser possível. Utópico é fantasioso, é quimérico ou imaginário, muitas vezes associado à ideia de irrealizável, impossível, um devaneio, um alheamento, por isso, sendo bonito, não devemos perder tempo a tentar alcançar. Este Romance é, sem dúvida, visionário, à frente do seu tempo, por isso, também difícil de aceitar, talvez por, neste momento, vivermos num mundo cinzento, obtuso e obscuro, onde o que parece nunca é e o que é, paradoxalmente, nunca o É.
Chegamos ao Romance filosófico. O Drama está para Levy, como A República está para Platão ou Cícero; assim como A Utopia está para Thomas More. É a apresentação de um mundo possível, onde o equilíbrio entre as necessidades do Estado e do Cidadão é uma realidade e complementam-se; existe justiça, existe conhecimento, existe cultura, saúde e uma vida digna para todos, coletivamente, mas também para cada um, íntimo e pessoal. Este mundo atravessa o pensamento de uma personagem através de um determinado Tempo Histórico, de um Tempo Real, mas, ao mesmo tempo, de um Tempo Imaginário. Estamos perante uma ficção, mas também estamos perante uma reflexão profunda sobre a existência de uma nação, de um continente, de um mundo, onde os problemas e as soluções surgem, exceto num caso em particular: no próprio drama que enfrenta Afonso VII de Portugal, questão que nos leva a ler, incessantemente, em busca da resposta que o rei dará ao seu problema; ‘ver’ qual vai ser a escolha perante um colossal drama, tendo em conta os monstruosos danos colaterais, quer escolha uma ou outra posição.
O diálogo socrático entre o Rei e a sua Consciência alastra-se a duas outras personagens, a Consciência da Consciência e o próprio Narrador-Autor (minha opção de definição enquanto personagem), complexificando, por um lado, o enredo, por outro abrindo espaço a outras discussões e a outros pensamentos como sejam a própria criação literária e a importância desta e do seu próprio criador na construção de um novo mundo para o mundo: “Ao Narrador não compete extinguir a fidelidade dos acontecimentos. Atreve-se a indicar unicamente os acessos onde a História navega para inflamar os vindouros de surpresa e estupefação. Cabe-lhe cingir, aos devaneios da imaginação, as fontes e factos históricos despertados nos compromissos da realidade com a ficção. O Narrador surge quando a criação literária alude e promove o mundo fascinante da literatura. É ele que apazigua as chamas da verdade para se deparar com o rosto da imaginação.” Na verdade, como sabemos todos aqueles que amam a Literatura, esta não abraça os aspetos da vida que foram, mas aqueles que poderiam ter sido. Assim, nessa dialética, a escrita ‘cria’ um mundo passado, real ou irreal, projetando, ao mesmo tempo, um mundo futuro a haver, tal como “D. Dinis na noite escreve um seu Cantar de Amigo/O plantador de naus a haver,” e, desta forma única, o mundo avança, arrastando um passado que já passou, para um futuro que não existe, contando, simplesmente e realisticamente, com os seus passos presentes.
Assim, também dizemos que O Drama é um Romance Histórico porquanto, tal como muitos outras ficções, criando personagens ficcionais e alegóricas, situa-se num tempo passado autêntico; num espaço físico verdadeiro; reportando-se a acontecimentos históricos factuais da nossa História Nacional recente, contudo, simultaneamente, projeta o enredo e as suas personagens para ‘um mundo a haver’, possível e ansiosamente esperado, tal como o poeta, um dia disse “Ó Portugal, hoje és nevoeiro…/É a hora!”.
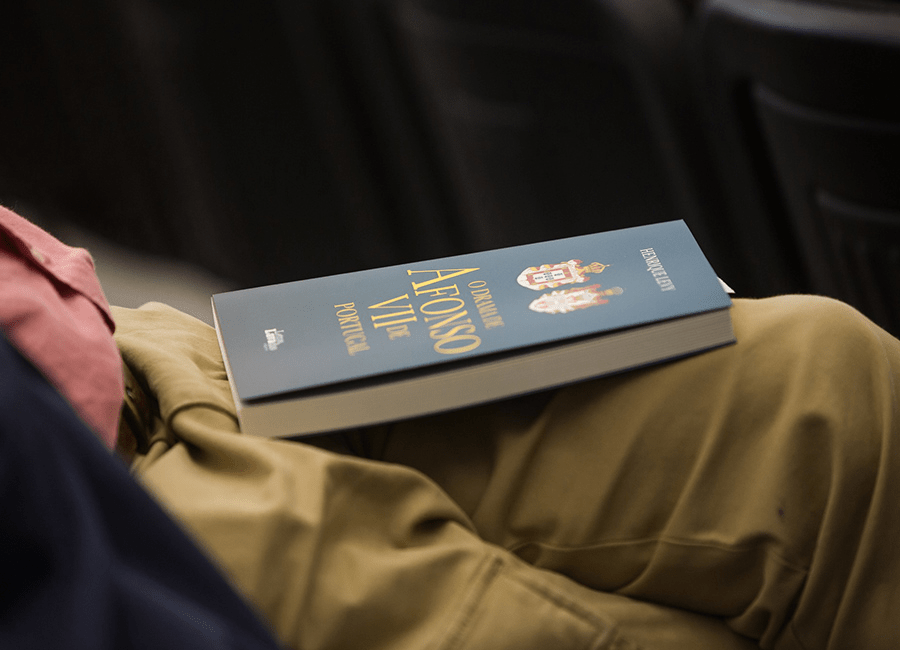
Para terminar esta ‘breve’ reflexão (não se deixem enganar pelo número de palavras e caracteres, estas são mesmo uma leve película da tal cebola…), acrescento, ainda, que esta obra de Henrique Levy também se pode considerar a sua ‘Arte Poética’, como disse no início. A sua visão da conceção da escrita e do papel do autor está presente, permanentemente, de forma muito clara, por isso fiz, como o Narrador Autor sugere, a determinada página, “[deixei-me levar pela] voz narrante…” com a certeza que “[deixei-me] levar pelas margens dos significados. Pela sabedoria profunda das palavras. Pela ocasião de a literatura contemplar o que realmente somos.”, acreditando que cada palavra é um universo e que, como diz Levy, “Só a arte imortaliza o espírito…” ao que eu acrescentaria: o que nos distingue dos outros seres não é a nossa ‘inteligência’, mas a capacidade de ‘criar’ ARTE.
Este livro é uma obra de arte, talvez a obra-prima da literatura do século XXI Português, mas, provavelmente, ainda não estamos preparados para discutir esta opinião. Leiam O Drama de Afonso VII de Portugal e depois entremos em debate… preparem-se porque a batalha vai ser difícil, mas para quem ama a Literatura, também vai ser divina..
in Diário Insular -José Lourenço, director